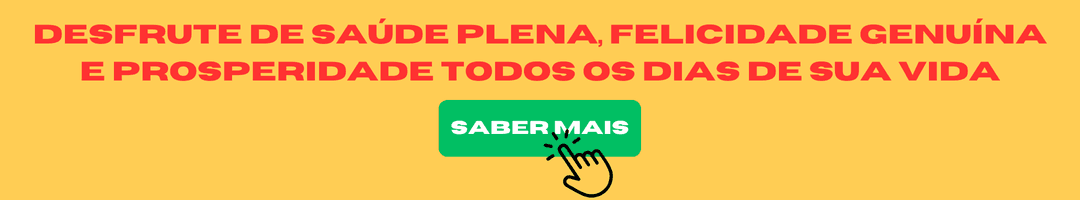Um dos marcos do existencialismo é o seu foco particular no conceito de ‘angústia’, entendido como o sentimento que experimentamos quando percebemos nossa responsabilidade radical em definir quem somos – individualmente e como espécie. Se os seres humanos não têm uma essência predeterminada escrita nos céus, como argumentam os existencialistas, e só podemos ser definidos com base em nossa existência real, então nossas ações – pelas quais somos responsáveis – são as únicas medidas do que é ser um ser humano.
O filósofo francês Jean-Paul Sartre resumiu essa ideia com a afirmação de que para os humanos ‘a existência precede a essência’. Mas o corolário de sua visão existencialista de nosso ser é a realização angustiante de que não somos nada além do que fazemos de nós mesmos; ou, em outras palavras, que somos absolutamente responsáveis por nossa existência. Na verdade, não é apenas nossa individualidade pela qual somos responsáveis quando escolhemos; em sua palestra O Existencialismo é um Humanismo (1946), pelo menos, Sartre afirma que também comprometemos o resto da humanidade ao adotarmos uma maneira específica de ser. Ele argumenta que, como cada uma de nossas ações cria uma imagem da humanidade como pensamos que deveríamos ser, devemos sempre nos perguntar: ‘O que aconteceria se todos fizessem como alguém está fazendo?’ Quando realmente confrontamos essa pergunta, nos tornamos conscientes da extensão de nossa responsabilidade para com a humanidade, levando a um sentimento inevitável de angústia – uma espécie de tontura provocada pela realização de nosso enorme dever.
Um dos problemas com o argumento de Sartre é que, na prática, raramente experimentamos a angústia angustiante que ele descreve enquanto vivemos a vida. Sim, existem ocasiões especiais em que temos que tomar decisões difíceis e somos confrontados com o peso de nossa responsabilidade como agentes, mas esses são casos excepcionais no máximo. Dizer que devemos agir como se cada ação que realizamos fosse uma declaração que nos define como indivíduos e como humanidade em geral simplesmente vai contra nossa experiência regular: por mais importantes que possamos nos considerar, a maioria de nossas ações parece inconsequente em moldar quem somos individualmente ou coletivamente.
No entanto, algo estranho está acontecendo à medida que nossas vidas migram do analógico para o digital, o que poderia, em certa medida, justificar a ideia intensificada de responsabilidade de Sartre e a angústia que ela induz. Vamos começar com a responsabilidade pessoal. Pense na experiência agora comum de ‘postagens sugeridas’ ou ‘recomendações’ que recebemos dos analistas de dados online. O nível de precisão com que as probabilidades e correlações conseguem capturar nossas preferências individuais e prever nosso próximo curso de ação é frequentemente assustador. Pode parecer que estamos sendo observados e que nosso comportamento, desejos e desejos são previstos com precisão. Mas se os algoritmos conseguem produzir feedback tão preciso sobre nossas preferências, é porque eles se alimentam da trilha crescente de migalhas digitais que nossa agência deixa pelo caminho. Para colocar em termos existencialistas, em nossas vidas digitais nós realmente vivemos a experiência constante de que nossa existência digital precede nossa essência. Se tivéssemos agido de maneira diferente, a essência digital que os algoritmos destilam de nossa existência também teria sido diferente. Mas quanto mais agimos, mais nossas escolhas online são determinadas pelo que a máquina nos devolve com base em nossas escolhas anteriores.
Nossa crescente consciência da extensão em que nosso comportamento online nos define também ajuda a explicar nossa apreensão natural diante do aumento do ‘todo-poderoso’ Big Data. Certamente há uma necessidade real de proteger nossa privacidade quando nos encondemos atrás da navegação privada ou de redes privadas virtuais. Mas vou argumentar que parte da razão pela qual escondemos nossa atividade dos algoritmos é escapar da experiência angustiante de que tudo o que fazemos online será usado para nos definir. Não queremos que essa consulta ou visita a tal site exemplifique quem somos, então a mascaramos para nos dizer e aos algoritmos que não somos essas pessoas procurando por isso ou visitando aquilo. Mais do que isso, não queremos que nossas escolhas passadas limitem as escolhas que nos são oferecidas no futuro. Preferimos desviar nossa responsabilidade e seguir na espécie de autoengano peculiar que Sartre chamou de ‘má fé’, de alguma forma acreditando que não somos simplesmente a soma do que fazemos, uma ilusão que é mais fácil de manter se não houver um algoritmo constantemente nos lembrando de como as escolhas que fizemos definem o que somos para eles.
Um fenômeno paralelo também é verdadeiro para nossa responsabilidade ampliada para com a humanidade. Em um mundo digital como o nosso, estamos cada vez mais conscientes de que cada ação que realizamos está sendo digitalizada e imediatamente adicionada ao bem comum público que chamamos de ‘a internet’ – um lugar onde os algoritmos costuram padrões para produzir uma imagem coletiva do que é ser humano. Em outras palavras, está cada vez mais claro para cada um de nós que apenas porque agimos de certas maneiras e preferimos certas coisas, os algoritmos aprendem a distinguir, classificar e definir o que é importante para os seres humanos em geral. Ainda pode ser um passo muito longe argumentar, como Sartre fez, que cada escolha que fazemos endossa uma visão de como a humanidade deveria ser. No entanto, é certo que se uma ação pode ser digitalizada, ela será adicionada ao conjunto de dados em constante crescimento que, cada vez mais, influencia o que pensamos que devemos fazer. Consultamos constantemente mecanismos de busca, aplicativos e assistentes digitais como entradas centrais em nossas decisões. Mas a direção para a qual o Big Data nos empurra depende, em última análise, do sedimentado de nossas escolhas passadas coletivas. E para isso, somos certamente responsáveis, mesmo que nossa contribuição individual pareça minúscula; dizer a nós mesmos que não somos é nada além de uma recusa em confrontar nossa nova realidade transparente.
Em resumo, a visão existencialista quintessencial de que, ao escolher, constituímos tanto a nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor, é, e se tornará, cada vez mais perceptível no ciberespaço. A digitalização e o uso que os algoritmos fazem de nossos dados nos dão um exemplo inevitável da importância de nossa agência. Quanto mais difícil se torna escapar do Big Data que reúne meticulosamente tudo o que fazemos em um avatar digital do que somos, mais claro deve ficar que o que somos é o que fazemos de nós mesmos por meio de nossa agência. E à medida que nossas escolhas se acumulam no reservatório coletivo que o Big Data explora, precisamos reconhecer nossa responsabilidade estendida como contribuintes para o que está se tornando rapidamente o projeto autoritário para a humanidade.
Certamente, esta é uma liberdade que causa angústia, pois coloca em nossas mãos o poder total de nos definirmos e à humanidade por meio da contribuição aditiva que todos fazemos para o mar de Big Data. Ainda assim, um grau elevado de angústia em relação à nossa responsabilidade como agentes não é uma coisa ruim quando as apostas são tão altas quanto são em um mundo em que tudo o que todos fazem adiciona ao estoque digital que nos define. Como diz o ditado, ‘Com grande poder vem grande responsabilidade’; a que um existencialista poderia acrescentar: ‘E com grande responsabilidade vem grande angústia existencial.’ Podemos servir à humanidade melhor se aceitarmos nossa angústia pelo que ela é: um sinal de que, nestes dias interconectados, nossa responsabilidade como agentes está aumentando.